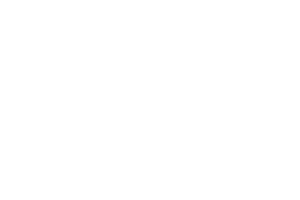Billy Elliot é daquelas histórias que, mesmo com ingredientes familiares, consegue nos cativar por sua autenticidade e sensibilidade. A trajetória de um menino criado por uma família operária no norte da Inglaterra durante a greve dos mineiros em 1984, que descobre na dança uma vocação inesperada, poderia facilmente cair em clichês. Mas o que o longa faz é se destacar justamente ao mergulhar com verdade nos conflitos sociais e familiares que cercam o protagonista, oferecendo muito mais do que uma narrativa edificante.
Dirigido por Stephen Daldry em sua estreia no cinema, Billy Elliot é uma obra de raro equilíbrio. O roteiro de Lee Hall se apoia em elementos autobiográficos e dá vida a uma comunidade que, apesar das dificuldades, exala humanidade. Há dor, perda, frustração e até raiva, mas também existe beleza e esperança. A escolha do balé como símbolo de fuga e expressão é poderosa – especialmente diante de um ambiente tão masculinizado e conservador quanto o da pequena cidade mineira.

Jamie Bell, então com apenas 14 anos, entrega uma atuação surpreendente no papel-título. Ele interpreta Billy com uma intensidade que transita entre a fúria contida e a delicadeza dos movimentos. Seu carisma é inegável, e sua química com Julie Walters – no papel da professora de dança Mrs. Wilkinson – sustenta boa parte do envolvimento emocional do filme. Walters, por sua vez, encarna a figura de mentora com humor ácido e um carinho implícito que nunca se impõe, mas se faz presente.
Gary Lewis como o pai de Billy representa um dos arcos mais comoventes da trama. De início, é uma figura rígida, quase opressora, incapaz de aceitar que o filho possa querer dançar em vez de lutar boxe. Mas sua transformação, conduzida com sutileza e sem grandes discursos, é o coração do filme. Ao ver o talento de Billy e a força de sua paixão, ele enfrenta seus próprios preconceitos e desafia os limites impostos pela sua realidade.
Entre os dramas familiares, a greve, a perda da mãe e até a presença de um irmão mais velho revoltado, Billy Elliot ainda encontra espaço para tratar com delicadeza da amizade entre Billy e seu melhor amigo Michael, que lida com sua sexualidade de forma lúdica e sincera. É raro ver um filme que retrate esse tipo de relação com tanta ternura, sem estigmas ou julgamentos – especialmente considerando que se passa nos anos 1980.

O trabalho de Daldry na direção é preciso, equilibrando momentos íntimos e explosões de energia com habilidade. As cenas de dança, com sua mistura de fúria e liberdade, funcionam quase como válvulas de escape emocionais para Billy – e para o espectador. Mesmo que a estrutura do roteiro não seja inovadora, o que ele faz com ela é impressionante: cria uma história que fala sobre identidade, classe, masculinidade e arte, tudo ao mesmo tempo.
Um pequeno detalhe que causa estranhamento é a trilha sonora, majoritariamente composta por faixas glam-rock dos anos 1970, como T. Rex e Marc Bolan. Embora sejam ótimas músicas, a escolha parece destoar do recorte temporal da trama. Ainda assim, a força emocional de Billy Elliot supera qualquer ruído cronológico. É um filme que dança entre o realismo social e o conto de fadas, sem nunca perder o pé no chão – ou o coração no lugar certo.