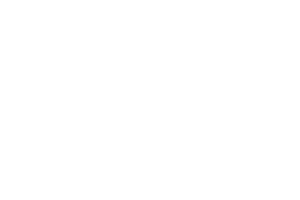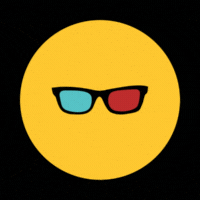O cinema tem o poder – a técnica e o trabalho com a forma – de trazer partículas e pedaços de vida, dando ritmo e enquadramentos próprios para essas cenas cotidianas. Seria desmerecedor afirmar que o cinema brasileiro, desde sempre, não teve uma preocupação em retratar as metáforas de uma realidade encoberta quase sempre pelos delírios que a ficção pudesse proporcionar. Seja no cinema de Luís Sérgio Person, Adélia Sampaio, Rogério Sganzerla ou Suzana Amaral, a matéria humana que circula pelas ruas, que opera máquinas grandes ou pequenas e é precarizada pelo sistema, foi desenvolvida na tela do cinema. O longa Arábia, de João Dumans e Affonso Uchoa, faz coro com os antigos para que a nova produção que trata do operário, uma figura comumente usada como coadjuvante – e demarcado por uma narrativa sem lugar de fala – seja agora colocada em protagonismo.

O espectador conhece Cristiano (Aristides de Souza) através da sua rotina calada e banal de trabalho numa metalúrgica, os horários confundem o relógio biológico e o lugar onde mora também é precarizado. Na mesma cidade há o núcleo familiar de André (Murilo Caliari) e seu irmão mais novo que são, constantemente, negligenciados pela família de classe média, enquanto os pais rodam o mundo. A existência de André e Cristiano se complementam quando o adolescente encontra o diário do trabalhador, cujo o narrador acreditava ser desinteressante, e se depara com uma realidade corriqueira e diferente da sua. O fato do metalúrgico ganhar voz pela sua escrita, enquanto seu corpo permanece inerte em uma cama de hospital, tem uma força muito importante para a narrativa do filme. Através de uma atividade no grupo de teatro da empresa – que muitas implantam a contragosto – é que o trabalhador se dá conta que pode passar a limpo a sua trajetória, percebendo a sua vida como uma construção, uma luta repleta de erros, acertos e decisões.

É lendo um lead em um dos jornais brasileiro, de maior acesso na internet, que o contexto e construção de Arábia supera a ficção e dialoga de muito perto com a realidade de uma maioria. Afirmando, e focando o texto nesse ponto, que o filme trabalha com um ex-detento, passando a ficha criminal do ator principal, a matéria pouco fala do filme, do cotidiano sufocante de um trabalhador da indústria pesada e sua luta diária contra seus próprios demônios como depressão, melancolia e ansiedade. A banalização da matéria que ressalta, antes uma condição marginalizada de um ator do que o trabalho construído no filme, diz muito sobre o desinteresse por essas vidas colocadas agora em tela por filmes como Pela Janela, de Caroline Leone e Era o Hotel Cambridge, de Eliane Caffé, ou mesmo o cinema dos irmãos Dardenne, que dialoga tão de perto com Arábia. Não são mais as vidas consideradas brilhantes, vistas de um ponto de referência questionável, e longínquas do cotidiano das massas que entram em tela, mas sim histórias desgastadas pelo cotidiano, pela força do sistema, com suas glórias e derrotas, tão próximas das vidas do lado de cá.

É por um viés do incômodo e da empatia que Arábia expõe e denuncia. Talvez a vida de Cristiano não diga nada para muita gente, porém é a sua existência e singularidade que diz, na verdade. Em uma cena rápida há uma placa, na entrada da empresa, que conta há quantos dias não acontece um acidente de trabalho, ironicamente o protagonista entrará para a estatística. Quem são esses números, que vida tiveram e levam para além das fotos sérias de suas carteiras de trabalho? Quanto sofreram, que pessoas amaram e que sonhos tiveram? Pois se o cinema é experiência, que seja através da alteridade que possamos conhecer essas histórias. O diário de Cristiano só pode fazer sentido, e de fato existir, se alguém o ler, conhecer a sua história e tirá-la do anonimato. A massa proletária, que preenche as ruas, os ônibus, trens e metrôs logo cedo não é amorfa e bicolor e por isso Arábia entra para um rol de um cinema de guerrilha, fazendo coro para os que contam sobre os excluídos da história, como diria Michelle Perrot. Um filme obrigatório.