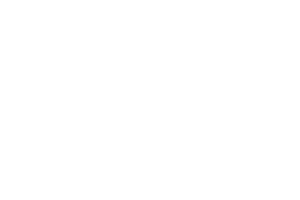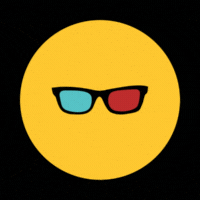Programas como Ídolos, The Voice e similares viraram febre desde o começo dos anos 2000, causando uma verdadeira euforia entre os espectadores. Essa tradição de caça-talentos não é novidade no ocidente e movimenta muito dinheiro para as emissoras de TV. Mas o que parece ser apenas um espetáculo de massa para nós – um dos pontos é que, infelizmente, muitos talentos encontrados nesses programas não emplacam diante de uma lógica de mercado – pode se transformar em uma ferramenta potente para dar visibilidade às lutas e situações de um povo. Esse é o caso contado em O Ídolo, dirigido pelo palestino Hany Abu-Assad, filme que concorreu à uma vaga ao Oscar de Filme Estrangeiro de 2017 e conta a trajetória de Mohammed Assaf, vencedor do Arab Idol em 2013, no Egito.
Mohammed (Kais Attalah/Tawfeek Barhom) é um jovem, filho de refugiados residentes em Gaza, na Palestina, que desenvolve a voz e sonha em ter uma banda. O Ídolo começa em 2005, mostrando as peripécias do garoto, sempre acompanhado pela irmã Nour (Hiba Attalah) – uma garota que foge dos estereótipos de qualquer mulher bem-comportada – e dos amigos Ahmad, Omar e Amal. O pequeno grupo faz qualquer coisa para conseguir instrumentos e tocar, sempre com a intenção de um dia sair da Palestina, que vive há décadas em conflito com Israel. O longa se desenvolve a fim de contar a breve trajetória de Mohammed, da ânsia infantil de ser músico até o momento em que decide usar sua voz como instrumento em favor do povo palestino.

Apesar de ter interesse em contar a história de Mohammed Assaf, a construção do roteiro por Sameh Zoabi e Hany Abu-Assad, se preocupou demais em comover o espectador, exagerando nas influências ocidentais sobre a ideia corriqueira de drama. Há uma boa dose de sentimentos duais em O Ídolo, pois ao passo que ele se mantém focado em contar uma história de superação, colocando ação e dramaticidade nas cenas, também propõe – mesmo que de forma menos clara, quase que em uma segunda camada – a valorização de uma identidade no país, uma espécie de autoestima por saber que o mundo pode ver que ali não existe apenas a guerra e a separação.
O Ídolo foi filmado uma parte na Palestina, sendo o primeiro filme a ser rodado – de forma oficial – em décadas no país, que requer autorização para tudo que use imagem, e outra no Egito. O filme se preocupa na forma que mostra Gaza, mesmo que haja pobreza e construções em ruínas pelas ruas, o diretor é atento em mostrar as situações corriqueiras dos diálogos, das ruas e do cotidiano. Mesmo que as armas e as figuras políticas e religiosas façam parte da mise en scène, sofremos menos pelo olhar estrangeiro da Palestina e prestamos mais atenção na vida de Assaf e sua trajetória.

A primeira parte de O Ídolo é particularmente melhor desenvolvida e reforçada com o time mirim de atores, principalmente Hiba Attalah, a irmã do protagonista. Além de ser a grande estimuladora para que o grupo continue insistindo no sonho, ela é durona e poucas vezes é cobrada por não caber dentro de estereótipos. Alguns elementos como Nour parecem surgir em tela para, junto com Mohammed Assaf e sua voz ao mundo, desfazer vários mitos clássicos que o ocidente teria da região. São esses pontos que tornam os problemas estruturais do longa menos visíveis e relevantes.
A cultura de massa, o sonho pelo espetáculo, a fama e a valorização do reconhecimento ganham outro patamar em O Ídolo, pois passamos a ver isso como forma de protesto, colocados diante de alguém sem lugar de fala. Mesmo que pareça libertador todas as agruras que o Mohammed do filme passe, sabemos que nem tudo ali é ficcionalizado e que houve muitos riscos enfrentados. Talvez o longa não seja uma das maiores experiências estéticas, mas, com certeza, é uma de alteridade e compreensão sobre situações que podem ser banalizadas em nossa sociedade e se tornam aventuras de liberdade em outra.