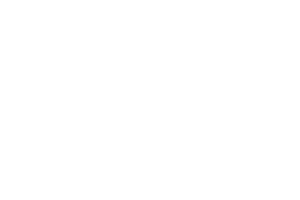Em Pai Mãe Irmã Irmão, Jim Jarmusch retoma o formato do filme antológico que tanto domina, mas aqui o faz de modo mais íntimo e melancólico. Dividido em três capítulos ambientados nos Estados Unidos, Irlanda e França, o longa é menos uma narrativa linear e mais uma contemplação sobre o tempo, a distância e as dores silenciosas que definem os laços familiares. É um filme sobre o que não se diz — e sobre como o amor, às vezes, se manifesta nas frestas da incomunicabilidade.
Na primeira parte, Pai, acompanhamos Emily (Mayim Bialik) e Jeff (Adam Driver) visitando o pai idoso (Tom Waits) em sua casa isolada no interior. O reencontro é desconfortável e cheio de pequenas contradições: o homem parece viver na penúria, mas carrega um Rolex no pulso. Entre conversas truncadas e gestos hesitantes, Jarmusch revela o cansaço e a culpa de uma geração que tenta cuidar dos pais, mas teme se tornar igual a eles. O tom é agridoce, sustentado pela câmera paciente do diretor, que transforma o banal em algo profundamente humano.

Em Mãe, a segunda parte, Charlotte Rampling dá vida a uma matriarca fria e elegante que recebe as filhas (Cate Blanchett e Vicky Krieps) para o que deveria ser um reencontro afetuoso. O que se vê, porém, é um balé de distanciamentos: as palavras são medidas, os sorrisos, forçados. Blanchett, com sua contenção calculada, encarna a filha que tenta agradar sem saber mais como se comunicar. Jarmusch filma tudo como uma peça de teatro de silêncios — onde o afeto se perdeu em algum lugar entre a memória e o protocolo.
O terceiro segmento, Irmã Irmão, é o mais poético. Após a morte dos pais, Skye (Indya Moore) e Billy (Luka Sabbat) revisitam o apartamento parisiense da família. Entre objetos, fotografias e lembranças que não pertencem mais a ninguém, os irmãos tentam decifrar quem foram aquelas pessoas antes de serem apenas “pai” e “mãe”. É o episódio que melhor resume o espírito do filme: o reconhecimento de que nunca conhecemos de fato aqueles que nos criaram — e que talvez isso seja parte da beleza e da dor da vida adulta.
Em cada história, há ecos sutis entre os personagens e situações — uma repetição de gestos, um olhar semelhante, um objeto reaparecendo em outra geografia. Essa estrutura circular dá à obra uma sensação de unidade emocional, mesmo que as histórias nunca se encontrem literalmente. Jarmusch orquestra essas conexões com uma leveza quase zen, recusando o drama explosivo e preferindo a melancolia que se instala lentamente.

Visualmente, Pai Mãe Irmã Irmão é uma das obras mais delicadas do diretor. Sua fotografia em tons terrosos e o uso da luz natural criam uma textura que parece envelhecida pelo tempo, como uma lembrança que se apaga nas bordas. A trilha sonora discreta reforça esse tom meditativo, alternando entre o humor seco e o silêncio contemplativo que sempre marcaram o cinema de Jarmusch.
Ao final, o filme deixa uma impressão de leveza triste — como uma carta que chega tarde demais, mas ainda carrega verdade. Pai Mãe Irmã Irmão é um retrato sutil e generoso da vida em família, que dispensa julgamentos para observar o que somos quando o amor já não se expressa em palavras. Um dos trabalhos mais maduros e serenos de Jarmusch, e talvez o mais próximo que ele chegou de um adeus em forma de filme.