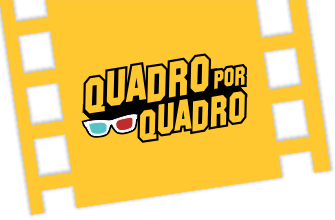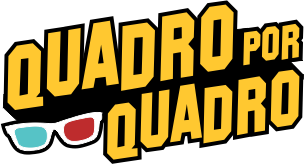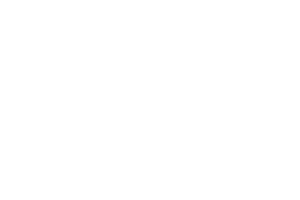O que Alfred Hitchcock fez com Psicose em 1960 não foi apenas criar um suspense envolvente, mas redefinir as possibilidades do gênero e da linguagem cinematográfica como um todo. Com um orçamento modesto e filmado em preto e branco, o longa rompe com convenções narrativas e estéticas para deixar o espectador em estado de constante tensão — até mesmo depois que os créditos finais sobem. Em vez de seguir um caminho previsível, Hitchcock nos atrai para uma trilha sombria e imprevisível, na qual nem mesmo a protagonista está a salvo.
Janet Leigh dá vida a Marion Crane, uma mulher que toma uma decisão moralmente questionável ao roubar uma quantia alta de dinheiro para fugir com seu amante. Essa escolha a coloca no caminho do tímido Norman Bates, vivido por Anthony Perkins em uma das atuações mais inquietantes da história do cinema. Ao transformar o público em cúmplice de Marion desde o início, Hitchcock estabelece uma conexão que será brutalmente rompida na infame cena do chuveiro — um momento que chocou plateias e ainda hoje reverbera como um divisor de águas.

A força de Psicose não está apenas na violência sugerida, mas na maneira como Hitchcock manipula nossas expectativas. A morte de Marion tão cedo no filme desafia uma das regras não escritas de Hollywood: a de que o protagonista só morre no fim. Esse rompimento dá lugar a uma nova narrativa, centrada em Norman e seus segredos perturbadores. A famosa sequência da faca é construída com uma edição genial, na qual nunca vemos o golpe, mas acreditamos veementemente que o vimos.
Mais do que apenas sustos, o filme trabalha temas profundos como identidade, repressão, voyeurismo e a fragilidade da mente humana. A dualidade entre Norman e sua “mãe” é uma metáfora poderosa sobre como os traumas podem criar personas distintas dentro de um mesmo indivíduo — algo que o cinema retomaria em diversas obras futuras. A revelação final sobre Norman não apenas choca, como também provoca uma reflexão desconfortável sobre o que consideramos “normal”.
O último ato do filme, com a explicação psiquiátrica sobre o transtorno de Norman, é deliberadamente frio e insatisfatório. Hitchcock sabia que nenhuma teoria seria capaz de dissipar o mal-estar que ele havia cultivado ao longo do filme. Ao retornar ao rosto de Norman nos momentos finais, o diretor sela o destino do público: continuar convivendo com o enigma que ele apresentou. A sanidade e a loucura, sugere o filme, podem ser apenas dois lados da mesma moeda.

A influência de Psicose é imensurável. Sua ousadia narrativa abriu espaço para filmes como O Bebê de Rosemary, O Iluminado e até Clube da Luta, que também desafiam a lógica clássica e apostam na ambiguidade como motor dramático. Ele também deu origem a incontáveis discussões acadêmicas sobre o papel do espectador, a construção do suspense e o uso simbólico do espaço e da câmera — marca registrada do estilo “hitchcockiano”.
Tantas décadas após seu lançamento, Psicose continua atual, desconcertante e essencial. É uma obra que não se contenta em entreter: ela provoca, desafia e inquieta. E no fim, quando ouvimos aquela voz suave dizendo “Eu não faria mal a uma mosca”, já sabemos que não há retorno. O cinema havia mudado — e nós também.